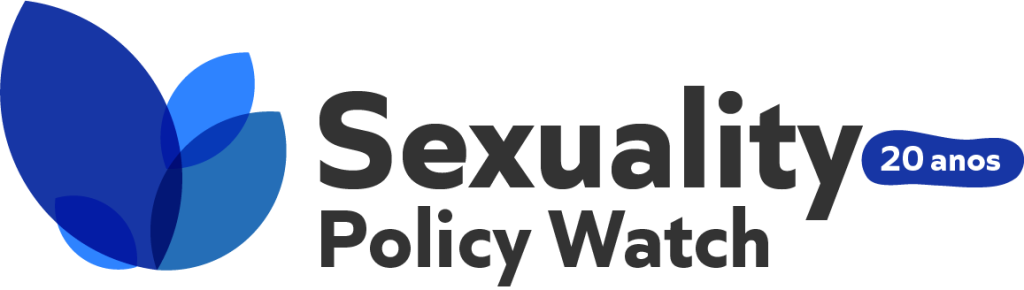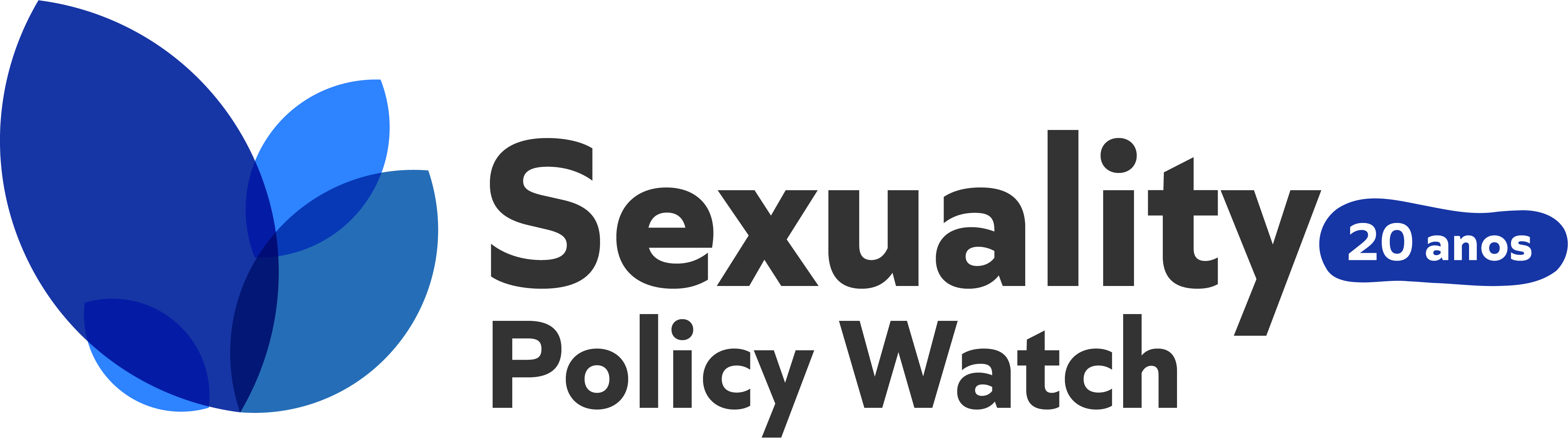Em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto no dia 30 de abril, a Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, usou uma máscara de proteção com o símbolo da personagem Mulher Maravilha. Justificou o ato argumentando que seria necessário encontrar formas lúdicas como apelo para que as crianças incorporem o uso da máscara de proteção contra o vírus da COVID-19.
A ministra se mascarou de heroína das meninas contemporâneas para angariar simpatia. Ao mesmo tempo, tem feito nas redes sociais a “contagem da vida”, ou seja, dá visibilidade aos números de pessoas recuperadas da COVID mesmo quando inúmeros especialistas nos dizem que as estatísticas brasileiras sobre infecção, recuperação e óbitos não são confiáveis. Estima-se que as quase 100 mil pessoas infectadas pelo vírus podem ser, na verdade, 800 mil e que o número de mortos possa ter chegado a 15 mil. Nesse cenário de mortandade, usar a máscara de uma heroína infanto-juvenil, que está totalmente a salvo dos riscos da epidemia, soa como derrisão.
Uma derrisão muito paradoxal, deve-se dizer. A Mulher Maravilha, ou Diana, filha de Hipólita, rainha das Amazonas, foi criada pelo psicólogo, roteirista e desenhista William Moulton Marston, que se inspirou nos anseios e ficção do movimento feminista norte americano. A referência de Marston às Amazonas tem origem nas fantasias ficcionais escritas nos anos 1910 e uma referência inequívoca foi a feminista Margaret Sanger, pioneira na defesa pelo direito à contracepção e, pasmem, ao aborto. Numa lista que Marston criou de pessoas que haviam feito as maiores contribuições à humanidade, Sanger ocupava a segunda posição, antecedida por Henry Ford e seguida pelo presidente Roosevelt.
A Mulher Maravilha foi inventada nos anos 1930 como jovem heroína da liberdade das mulheres e da igualdade entre os gêneros. Como bem se sabe, as Amazonas, mulheres míticas da Grécia Antiga, engravidavam por partenogênese e só pariam mulheres. A sexualidade das Amazonas era vivenciada principalmente com mulheres em relações lésbicas, mas não excluía a relação com homens. Quando estabeleciam relação com homens, não engravidavam, pois reprodução e a sexualidade pertenciam a esferas distintas da existência.
William Marston também vivenciava em sua vida pessoal as aspirações libertárias que retratava. Era casado com a advogada Elizabeth Holloway e, em 1925, a psicóloga Olive Byrne, sobrinha de Margareth Sanger, se juntaria a William e Elizabeth formando com eles um trisal que teve uma filha e três filhos juntos. Quando Marston faleceu, Holloway e Byrne continuaram a viver juntas com sua prole. Marston dizia que “a única esperança para a civilização é a maior liberdade, desenvolvimento e igualdade das mulheres em todos os campos da atividade humana… Francamente, a Mulher Maravilha é propaganda psicológica para o novo tipo de mulher que deve, a meu ver, governar o mundo”.
A pergunta que não quer calar é, portanto, como pode uma jovem heroína da liberdade e da igualdade combinar com a “abominação do gênero” e as “meninas vestindo rosa” que habitam o carro-chefe ultraconservador da ministra.