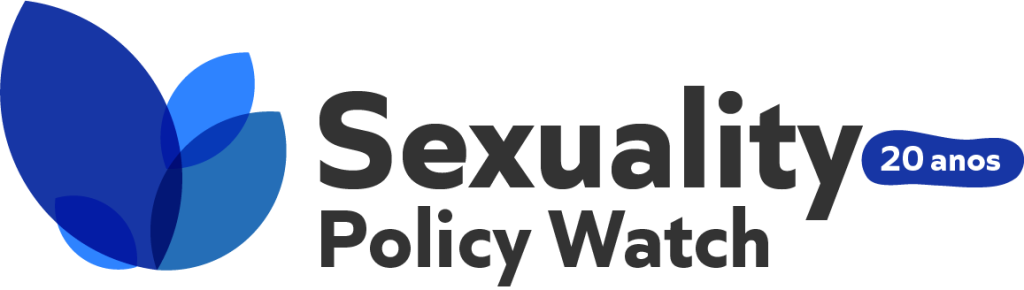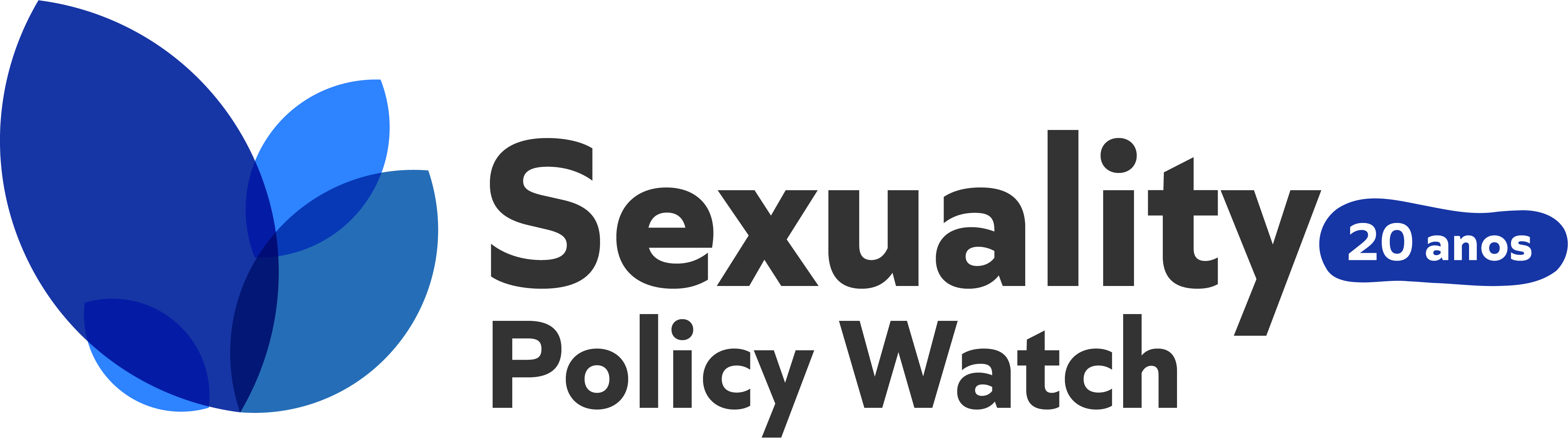por Júlia Silva Vidal[1] e Sophia Pires Bastos[2]
A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 4275, proferida em 1º de março de 2018, tem sido apontada por muitos como o tardio e já inevitável reconhecimento ao direito à identidade de gênero. A garantia da possibilidade de retificação de nome e gênero para travestis e transexuais não apenas pela via administrativa, mas também independentemente da realização de cirurgia de redesignação sexual ou de submissão a tratamentos hormonais parece despontar nesse cenário como a garantia da reivindicação do mais singelo e complexo componente da vida humana – a própria existência.
As implicações desse marco jurídico, aberto e incerto, ainda não foram objeto de reflexões tão pormenorizadas por parte da academia, dos movimentos sociais e dos operadores do direito. Confrontado, porém, tanto com a construção jurídica do direito à identidade de gênero quanto com as fragilidades que permeiam o cenário político brasileiro atual, no/do qual emerge tal decisão, verifica-se que, na verdade, os desafios por ele impostos não são novos, mas, talvez, atualizados.
Isso porque a construção do direito à identidade de gênero remete, sobretudo, à identificação de discursos involucrados na tentativa de negação das experiências travestis e transexuais. De início, a pauta da transexualidade entra no mundo jurídico por um viés não autônomo, vinculado a uma narrativa da homossexualidade e da transmissão de doenças sexuais. Ainda, muito pelo tratamento patológico dispensado à homossexualidade, com a inserção do “homossexualismo” na Classificação Internacional de Doenças (CID) em 1977, a transexualidade surge também como patologia, aberração, tendo sido categorizada como transtorno mental desde a década de 1980.
Não obstante a luta pela compreensão da transexualidade de forma não apartada das orientações sexuais, mas ao menos sobressalente, tenha se intensificado no campo social, o campo jurídico continuou fechado ao diálogo – ou, como no geral acontece, suas aberturas foram mínimas, para o que seria conveniente à manutenção do status quo, e de forma a tutelar sempre excessivamente a autonomia privada desse sujeito “incerto”, que foge à dualidade própria do campo normativo (“legítimo/ilegítimo”).
Tais reminiscências vão permear, portanto, o exercício de direitos básicos como o direito ao corpo: a cirurgia de redesignação sexual foi, durante muito tempo, compreendida como espécie de mutilação. A própria leitura do artigo 13, do Código Civil, coloca em questão o que o Direito de fato deseja tutelar – o que está materializado na impossibilidade de dispor do próprio corpo quando isso “contrariar os bons costumes”?[3]
Quanto ao direito ao nome e à alteração de documentos pessoais, o procedimento de retificação de registro civil existente até então, por sua vez, evidencia e reitera a utilização de mecanismos jurídicos e extrajurídicos em prol do não exercício da identidade de gênero. Em primeiro lugar, para a retificação, a prática exigia a comprovação da condição de “transexual de verdade” por meio de laudos psicológicos e psiquiátricos. Medicina e Psicologia, neste momento processual, refutam ou chancelam a validade dessas experiências.
Não apenas aqui um terceiro, ou seja, pessoa que não é parte na relação processual, tinha o condão de determinar a possibilidade ou não do exercício do direito. O próprio fato de a retificação ocorrer pela via judicial, dependendo, portanto, de uma espécie de autorização do juiz para o exercício de nada mais que o próprio gênero, revela o real tratamento dispensado pelas instituições.
Tratamento este reiterado na sutileza de a retificação de nome ser processada e julgada na Vara de Registros Públicos e a de gênero, necessariamente, na Vara de Família. Como não havia uma normatização expressa das competências das Varas para retificar o gênero constante no assento de nascimento – fato que também pode ser questionado –, surgiu e foi reproduzida a interpretação de que o gênero, por estar atrelado ao “estado da pessoa”, era matéria dos juízos de família. Já o nome, por ser meramente registral, deveria ser alterado na Vara de Registros Públicos. Aparentemente despretensiosa, essa distinção perdurou enquanto mais um obstáculo de um processo enviesado.
O tom da preocupação excessiva em conter o exercício livre da identidade de gênero se traduzia, assim, na denegação da retificação[4] por supostamente ferir a “segurança jurídica” ou abrir margens para “fraude contra credores”, “casamento por erro” e “ilícitos em geral”, quando não na “impossibilidade de se alterar a realidade cromossômica do indivíduo”[5] e em tantos outros ilogismos.
É também por esses fatores que a decisão proferida pelo STF deve ser lida com cautela e, sobretudo, à luz do cenário político ainda moralizante e desfavorável à efetivação de direitos no campo do gênero e da sexualidade.
Como já referido, a “cruzada moral”[6] que assola o Brasil e suas instituições não é bem uma novidade. Hoje, com influxos cada vez mais incisivos nos mais diversos espaços e entidades, podemos nomear a guerra contra a “ideologia de gênero” de forma mais explícita como estratégias discursivas de um movimento que busca conter e apagar os frágeis avanços em direitos de gênero e sexualidade. Tal movimento e influxo, por sua vez, não se desenvolve de maneira apartada do dia a dia das instituições “oficiais” de poder, de tal forma que seus efeitos podem ser sentidos no âmbito do Judiciário, do Legislativo e do Executivo.
Nesse cenário, o engavetamento do Projeto de Lei de Identidade de Gênero desde maio de 2015, como exemplo, pode ser lido como efeito direto desse movimento. Cumpre pontuar que referido PL, de nº 5002, foi proposto em 2013 pelos deputados Jean Wyllys e Érika Kokay e sua redação original estava em consonância com legislações internacionais, notadamente a argentina, considerada uma das mais atualizadas e efetivas no reconhecimento das experiências travestis e transexuais.
A impossibilidade de fazer “caminhar” a Lei de Identidade de Gênero no Brasil, associada à ausência de vontade política de fomentar um debate social sobre o tema significou, como alternativa quase que última, o retorno às instâncias máximas do Poder Judiciário com o objetivo de consolidar condições e garantias mínimas e básicas – à semelhança da luta pela autorização da união estável homossexual, em 2012. Isso, contudo, pode ser problemático.
No caso da retificação do registro civil, as fragilidades dessa atuação considerada ativista e imprópria do Poder Judiciário se relacionam diretamente com o fato de decisões como essa não virem acompanhadas de políticas públicas e de normatizações que dialoguem com o dia a dia dos cartórios e, sobretudo, efetivamente reconheçam o direito à identidade de gênero. Assim, a demora em estipular com clareza o procedimento de alteração de nome e gênero e os documentos realmente necessários para tanto perpetua a ascensão de moralidades diversas, ocultadas e reiteradas sob o véu das justificativas “jurídicas”, bem como obsta a efetivação do procedimento diante da suposta impossibilidade de realizá-lo por ausência de “normatização”. Não é por outro motivo que, até meados de 60 dias decorridos do decidido pelo STF, poucos cartórios aceitaram realizar a alteração registral[7].
A regulamentação alcançada em maio e início de junho, por meio de mais reivindicações da sociedade civil, por sua vez, também não esteve imune a influxos conservadores e mecanismos jurídicos de subvalorização e não reconhecimento da autodeterminação de gênero. Em resposta ao pedido de providências nº 0005184-05.2016.2.00.0000, requerido pela Defensoria Pública da União (DPU), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) elaborou proposta de resolução para regulamentar a atuação dos cartórios, proposta esta completamente dissonante da decisão proferida pelo STF na ADI 4275. O conteúdo da resolução sugerida condiciona o exercício do direito à identidade de gênero à ausência de pendências de caráter pecuniário/patrimonial; menciona a necessidade de laudos médicos e psicológicos “a fim de conferir segurança ao procedimento”; ignora o princípio da presunção de boa-fé; e possibilita a recusa do registrador no caso da não verificação do “desejo real” de quem busca a retificação.
Nessa perspectiva, o movimento para pautar o tom da regulamentação do procedimento em questão nos cartórios se torna imprescindível para a disputa de sentidos em torno do exercício “oficial” da identidade de gênero. A Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) iniciou uma campanha[8] denominada #meunomeimporta para expor as dificuldades que travestis e transexuais estão enfrentando para ter seu direito efetivado. A campanha é um exemplo de mobilização política para fazer valer da melhor forma possível o que foi decidido no Supremo e mostrar a importância de uma regulamentação que não impeça o exercício de um direito supostamente já garantido.
Na esteira dessas preocupações, tanto a ANTRA ingressou como amicus curiae[9] no pedido de providências quanto a DPU, no último dia 7 de maio, convocou uma audiência pública para discutir referida proposta de resolução elaborada pelo CNJ[10]. Na ocasião, com o intuito de tornar mais participativa a intervenção das pessoas diretamente concernidas pela proposta de resolução, todo o seu conteúdo foi colocado em debate. Como produto da reunião, uma nova proposta de resolução foi elaborada e submetida à apreciação do CNJ.
Somente em 29 de junho, enfim, foi publicado o Provimento nº 73, de 28 de junho de 2018[11], do Conselho Nacional de Justiça, regulamentando a averbação da alteração de prenome e gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoas travestis e transexuais no Registro Civil das Pessoas Naturais. O novo Provimento de fato acatou sugestões prementes, como a não obrigatoriedade de laudos para realizar a retificação (documento apontado como facultativo no art. 7º), mas ainda peca em questões como a possibilidade de negativa por parte do registrador caso haja suspeição de fraude, má-fé, vício de vontade ou simulação (art. 6º) e a não gratuidade automática de emolumentos (art. 9º), fator que tem, na prática, gerado transtornos e impossibilidade de adequação do registro[12].
Evidenciado, portanto, o cenário de contínua negação e negociação de direitos de travestis e transexuais, até mesmo uma decisão proferida pela mais alta Corte do país se demonstra aberta e com desdobramentos fragilizados caso não haja, mais uma vez, um contrafluxo a possíveis retrocessos. Um contraponto estratégico é a apropriação do momento histórico para avançar em pautas conexas como a despatologização das experiências travestis e transexuais. Vislumbrar o direito à identidade de gênero como o direito ao próprio gênero contribui, portanto, para ler os desafios atualizados e insuflar a disputa nesse campo aberto e incerto.
—
[1] Júlia Silva Vidal é mestranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pesquisadora do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT (Nuh/UFMG).
[2] Sophia Pires Bastos é graduanda em Direito pela UFMG e pesquisadora do Nuh/UFMG.
[3] CÓDIGO CIVIL. Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes.
[4] Antes do advento do novo Código de Processo Civil, declarava-se a improcedência do pedido com base na sua “impossibilidade jurídica”. Vide: “A falta de lei que disponha sobre a pleiteada ficção jurídica da identidade biológica impede ao juiz de alterar o estado individual, que é imutável, inalienável e imprescritível. O pedido é juridicamente impossível”. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. 4ª Câmara Cível. Ap. Cível 1.0000.00.2960763/000. Relator: Des(a). Almeida Melo. Julgamento em 20/03/2003, publicado em 02/04/2003).
[5] “Outrossim, levando em consideração que o registro de nascimento deve conter a realidade, não considero possível a retificação do sexo no registro civil. Isso porque, apesar da intervenção cirúrgica e da alteração de nome, o autor ainda é, geneticamente, do sexo masculino, o que pôde ser constatado através do exame acostado às f. 60, onde se constatou a presença de cromossomos XY, pertinentes exclusivamente ao sexo masculino”. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. 8ª Câmara Cível. Apelação Cível 1.0543.04.910511-6/001. Relator: Des(a). Roney Oliveira. Julgamento em 23/02/2006, publicado em 18/08/2006).
[6] SCHWARCZ, Lilia. Somos o outro do outro. Ou um desabafo a favor do relativismo. Acesso em maio/18.
[7] Vide notícias no O Globo e O Povo.
[8] Disponível no site da ANTRA. Acesso em maio/18.
[9] Manifestação disponível aqui. Acesso em maio/18.
[10] Vide aqui. Acesso em maio/18.
[11] O inteiro teor do Provimento nº 73/2018, do Conselho Nacional de Justiça, pode ser lido aqui. Acesso em agosto/2018.
[12] A não gratuidade de emolumentos, por exemplo, tem sido um problema enfrentado na prática pela Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais, programa de extensão que realiza tanto ações de litigância estratégica quanto demandas individuais no campo de gênero e sexualidade. Ver: NICÁCIO, Camila S.; VIDAL, Júlia S.; BASTOS, Sophia P. Transexualidade e litigância estratégica em direitos humanos. In: NICÁCIO, C.S.; SOARES de MENEZES, F e SORICE BARACHO THIBAU, T. C. (Org.), Clínicas de direitos humanos e o ensino jurídico no Brasil: da crítica à prática que renova. Belo Horizonte: Arraes, 2017, p. 83-99.
Imagem: Ativista trans Anyky Lima.