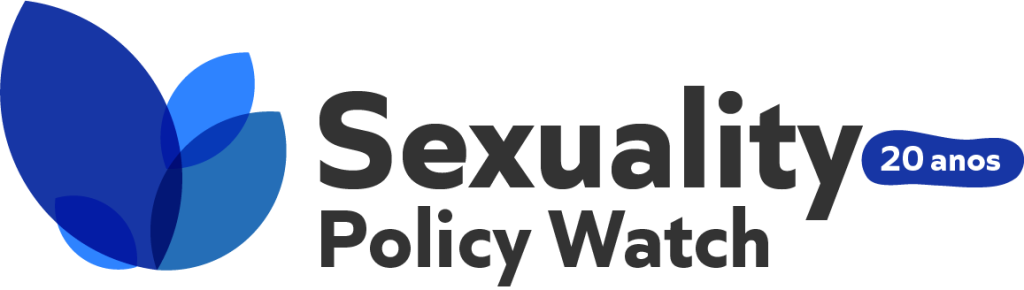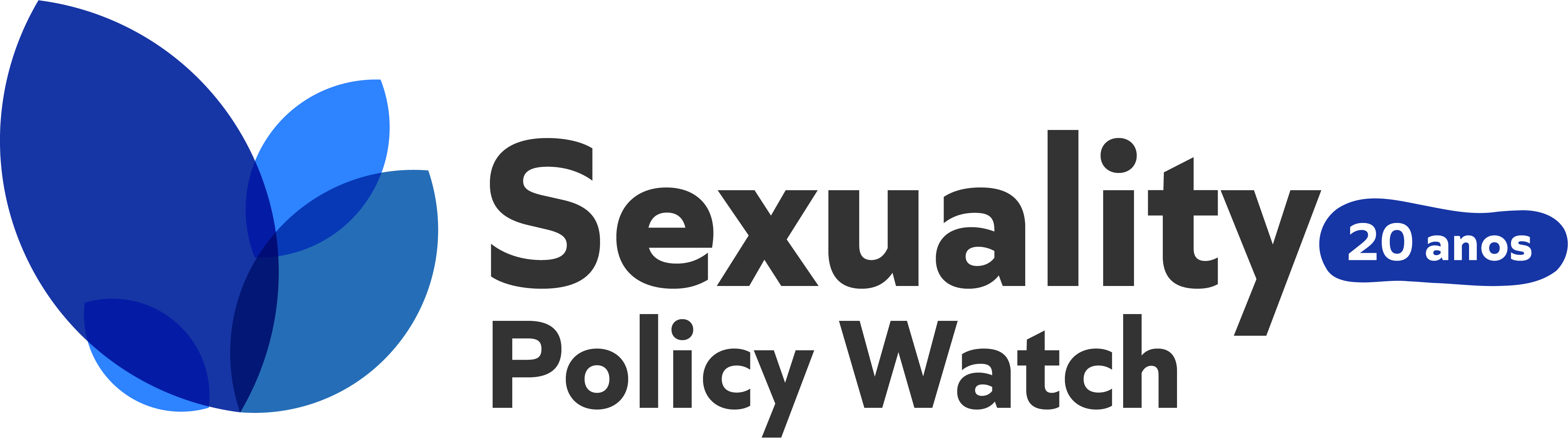Por Maria Lúcia Karam.*
Por Maria Lúcia Karam.*
A partir das últimas décadas do século XX, com o ressurgimento dos movimentos feministas, foram notáveis os avanços, especialmente no mundo ocidental, no sentido da afirmação e garantia dos direitos das mulheres, da superação das relações de subordinação fundadas na ideologia patriarcal e da construção de nova forma de convivência entre os gêneros. Mas as transformações ocorridas desde então não lograram alcançar a plena superação da ideologia patriarcal, não se podendo esquecer que, em muitas partes do mundo, especialmente em alguns países da Ásia e da África, a discriminação contra as mulheres e sua posição de subordinação ainda se fazem intensamente presentes.
Mesmo onde registrados os significativos avanços no campo das relações entre os gêneros, ainda subsistem resquícios da ideologia patriarcal. A distinção entre tarefas masculinas e femininas não chegou a ser totalmente eliminada. Ainda há quem suponha que o trabalho profissional das mulheres seria secundário, funcionando apenas como uma complementação do orçamento familiar, de que sua relação com o trabalho seria diferente, de que seriam menos ambiciosas, que colocariam a maternidade como primeira opção. Isto conduz à ainda existente desigualdade de salários e de oportunidades de ascensão a postos mais qualificados.
A desigualdade persiste também no campo da participação política. Os postos políticos de poder e decisão permanecem sendo espaços predominantemente masculinos, ainda hoje acessíveis a mulheres apenas enquanto exceções.
Os resquícios da ideologia patriarcal, da histórica desigualdade, da discriminatória posição de subordinação da mulher, naturalmente, se refletem nas relações individualizadas. Mesmo onde registrados os significativos avanços no campo das relações entre os gêneros, é ainda alto o número de agressões de homens contra mulheres no âmbito doméstico, a caracterizar a chamada ‘violência de gênero’, isto é, a violência motivada não apenas por questões estritamente pessoais, mas expressando a hierarquização estruturada em posições de dominação do homem e subordinação da mulher, por isso se constituindo em manifestações de discriminação.
A brasileira Lei 11340/2006, conhecida como ‘Lei Maria da Penha’, pretendeu criar mecanismos para coibir essa violência doméstica e familiar contra mulheres, a fim de garantir seus específicos direitos fundamentais, assegurados em diplomas internacionais e na Constituição Federal brasileira. No entanto, a orientação central de tal lei, com decisivo apoio e, mais do que isso, pressão de ativistas e movimentos feministas, inclinou-se para uma opção criminalizadora, privilegiando a sempre enganosa, danosa e dolorosa intervenção do sistema penal como suposto instrumento de realização daqueles direitos fundamentais, como suposto instrumento de proteção das mulheres contra a discriminação e a opressão resultantes de relações de dominação expressadas na desigualdade de gêneros.
A brasileira lei 11340/2006, assim como sua inspiradora espanhola Ley Orgánica 1/2004 e leis de outros países igualmente centradas na opção criminalizadora, constitui mais um lamentável exemplo da cega adesão de movimentos feministas ao sistema penal; mais um exemplo de seu paradoxal entusiasmo pela punição.
Não obstante a ausência de qualquer impacto da Lei 11340/2006 na prevenção de mortes de mulheres resultantes de agressões – os índices de homicídios contra mulheres permaneceram praticamente os mesmos nos períodos 2001/2006 e 2007/2011 (5,28 e 5,22 por 100 mil mulheres respectivamente) [1] – grande parte de ativistas e movimentos feministas insistem na mesma suposta ‘solução penal’, agora aplaudindo a Lei 13104/2015, que inutilmente acresce às circunstâncias qualificadoras do homicídio o dito ‘feminicídio’.
A adesão ao sistema penal e o entusiasmo pela punição vêm de longe. Já há algum tempo, uma significativa porção de ativistas e movimentos feministas, bem como outros ativistas e movimentos de direitos humanos, têm se feito corresponsáveis pela desmedida expansão do poder punitivo, globalmente registrada a partir das últimas décadas do século XX. Movidos pelo desejo de punir seus apontados ‘inimigos’, têm contribuído decisivamente para o maior rigor penal que se faz acompanhar exatamente pela crescente supressão de direitos humanos fundamentais; pela sistemática violação a princípios garantidores inscritos nas normas assentadas nas declarações internacionais de direitos e constituições democráticas; pela intensificação da violência, dos danos e das dores inerentes ao exercício do poder punitivo.
O desejo punitivo acaba por cegar seus adeptos e adeptas. Ativistas e movimentos feministas que aplaudem e reivindicam o rigor penal contra os que apontam como responsáveis por violências contra mulheres, acabam por paradoxalmente reafirmar a ideologia patriarcal.
Claro exemplo desse paradoxal comportamento se verificou em julgamento levado a efeito no Supremo Tribunal Federal [2] sobre a regra contida no artigo 16 da Lei 11340/2006, concernente à iniciativa da ação penal em hipóteses de acusação de prática de crime de lesões corporais leves praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher.
A regra discutida já trazia uma discriminatória superproteção à mulher, ao estabelecer que a renúncia à representação somente poderia se dar perante o juiz, em audiência especialmente designada para tal fim e ouvido o Ministério Público, exigência inexistente em quaisquer outras hipóteses em que a iniciativa do Ministério Público depende de representação do apontado ofendido, sempre livre para renunciar ou desistir da representação e assim desautorizar a instauração do processo contra o apontado agressor. Mas, no comentado julgamento, o Supremo Tribunal Federal, paradoxalmente aplaudido por grande parte de ativistas e movimentos feministas, foi além: negou eficácia àquela regra da Lei 11340/2006, para, indevidamente se substituindo ao Poder Legislativo, pura e simplesmente afastar a exigência da representação e assim tornar incondicionada a iniciativa do Ministério Público no exercício da ação penal.
Emoldurada por discursos pretensamente voltados para a proclamação da dignidade da mulher, tal decisão do Supremo Tribunal Federal constituiu, na realidade, uma clara reafirmação da supostamente combatida ideologia patriarcal e um exemplo cabal de discriminação contra a mulher. No afã de propiciar, a qualquer custo, condenações de apontados agressores, o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal retirou qualquer possibilidade de protagonismo da mulher no processo, reservando-lhe uma posição passiva e vitimizante; inferiorizando-a; considerando-a incapaz de tomar decisões por si própria; colocando-a em situação de desigualdade com todos os demais ofendidos a quem é garantido o poder de vontade em relação à instauração do processo penal.
O pronunciamento do Supremo Tribunal Federal negou à mulher a liberdade de escolha, tratando-a como se coisa fosse, submetida à vontade de agentes do Estado que, tutelando-a, pretendem ditar o que autoritariamente pensam seria o melhor para ela. Difícil encontrar manifestação mais contundente de machismo.
Em sua cega e paradoxal adesão ao sistema penal, ativistas e movimentos feministas, como outros ativistas e movimentos de direitos humanos, encobrem seus desejos punitivos com uma distorcida leitura das normas garantidoras dos direitos humanos fundamentais, delas pretendendo extrair supostas obrigações criminalizadoras.
Leis e práticas penais necessariamente constituem um obstáculo à plena realização dos direitos humanos fundamentais. As normas garantidoras dos direitos humanos fundamentais foram concebidas como uma defesa do indivíduo diante dos poderes estatais, especialmente o mais violento e perigoso desses poderes – o poder punitivo. Em sua relação com leis penais criminalizadoras, as normas garantidoras dos direitos humanos fundamentais se destinam a funcionar como um freio ao poder do estado de punir, a fim de proteger cada indivíduo ameaçado pelo exercício desse poder, em qualquer circunstância, seja quem for tal indivíduo ou quão odiosa a conduta alegadamente praticada. Em sua relação com leis penais criminalizadoras, as normas garantidoras dos direitos humanos fundamentais se destinam, pois, a proteger cada indivíduo suspeito, acusado ou condenado pela prática de um crime, de modo a evitar ou pelo menos minimizar as violentas, danosas e dolorosas consequências de investigações, processos ou condenações penais. Em sua relação com leis penais criminalizadoras, as normas garantidoras dos direitos humanos fundamentais se orientam pela primazia da proteção de cada indivíduo sobre o poder punitivo, sempre implicando o máximo respeito pela liberdade individual e o máximo controle sobre o exercício do poder punitivo.
A finalidade das normas garantidoras dos direitos humanos fundamentais, em sua relação com leis penais criminalizadoras, é, portanto, restringir a violência, os danos e as dores que necessariamente resultam de qualquer intervenção do poder do estado de punir. Essas mesmas normas não podem ser usadas para impulsionar esse mesmo violento, danoso e doloroso poder. A falsa ideia de supostas obrigações criminalizadoras pretensamente extraídas das normas garantidoras dos direitos humanos fundamentais inverte totalmente a função de tais normas. Normas destinadas a proteger o indivíduo ameaçado pelo exercício do poder punitivo não podem paradoxalmente funcionar como um instrumento voltado para a expansão desse mesmo poder. Sempre vale lembrar que “ninguém pode servir a dois senhores; ou você odiará um e amará o outro; ou você se dedicará a um e desprezará o outro” (Mateus, 6: 24).
A distorcida leitura das normas garantidoras dos direitos humanos fundamentais contraditoriamente apresenta o sistema penal como um instrumento de atuação positiva. No entanto, o sistema penal só atua negativamente – aliás, em todos os sentidos, mas, aqui, no sentido de atuar proibindo condutas, intervindo somente após o fato acontecido, para impor a pena como conseqüência da conduta criminalizada. Na realidade, o que os dispositivos garantidores da proteção de direitos humanos fundamentais, assentados nas declarações universais de direitos e nas constituições democráticas, ordenam aos Estados são intervenções positivas que criem condições materiais – econômicas; sociais; e políticas – para a efetiva realização daqueles direitos. São essas ações de natureza positiva (ações que promovem direitos) – e não ações negativas (ações que proíbem condutas) – que devem ser realizadas pelos Estados para tornar efetiva a proteção dos direitos humanos fundamentais.
Nesse ponto vale lembrar que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como ‘Pacto de San José’, dispõe que o direito à vida deve ser em geral protegido desde o momento da concepção (artigo 4, parágrafo 1). Será que essa norma estaria a implicar uma obrigação de criminalizar o aborto? Aqueles e aquelas que acreditam na falsa ideia de que as normas garantidoras dos direitos humanos fundamentais gerariam supostas obrigações criminalizadoras, deveriam, por um mínimo de coerência, responder que sim.
Na realidade, no entanto, o sistema penal nunca atua efetivamente na proteção de direitos. A expressão ‘tutela penal’, tradicionalmente utilizada é manifestamente imprópria, na medida em que as leis penais criminalizadoras, na realidade, nada tutelam, nada protegem, não evitam a ocorrência das condutas que criminalizam, servindo tão somente para materializar o exercício do enganoso, violento, danoso e doloroso poder punitivo. O bem jurídico não deve ser visto como objeto de uma suposta “tutela penal”, mas sim como um dado real referido a direitos dos indivíduos, que, por imposição das normas garantidoras dos direitos humanos fundamentais, há de ser levado em conta como elemento limitador da elaboração e do alcance daquelas leis criminalizadoras. [3]
O sistema penal promove violência; estigmatização; marginalização; e sofrimento. Aliás, quanto a esse último efeito, vale lembrar que essa é a ideia central da punição: pena significa sofrimento. O sistema penal promove desigualdade e discriminação, tendo como alvo grupos já em desvantagem social. Os indivíduos que, processados e condenados, são etiquetados de ‘criminosos’ – assim cumprindo o papel do ‘outro’, do ‘mau’ e, agora, do ‘inimigo’ – são e sempre serão necessária e preferencialmente selecionados dentre os mais vulneráveis, marginalizados, excluídos e desprovidos de poder. Como assinala Zaffaroni, o sistema penal opera como uma epidemia, preferencialmente atingindo aqueles que têm baixas defesas [4]. O interior das prisões em todo o mundo não deixa dúvida quanto aos alvos preferenciais do sistema penal. Certamente, não seria razoável supor que um atributo negativo, como é o status de ‘criminoso’, pudesse ser preferencialmente distribuído entre os poderosos.
O sistema penal promove a ideia do ‘criminoso’ como o ‘outro’, o ‘mau’ e agora como o ‘inimigo’, assim necessariamente atuando de forma residual, através da seleção de alguns dentre os inúmeros autores de condutas criminalizadas para cumprirem aquele demonizado papel. Assim, facilita a minimização de condutas e fatos não criminalizáveis socialmente mais danosos, como a falta de educação de qualidade, de alimentação saudável, de atendimento à saúde, de moradia confortável, de trabalho digno. Assim, afasta a investigação e o enfrentamento das causas mais profundas de situações, fatos ou comportamentos indesejáveis ou danosos, ao provocar a sensação de que, com a imposição da pena, tudo estará resolvido. Assim, oculta os desvios estruturais, encobrindo-os através da crença em desvios pessoais, o que evidentemente contribui para a perpetuação daquelas situações, fatos ou comportamentos indesejáveis ou danosos.
Com efeito, situações, fatos ou comportamentos negativos, indesejáveis ou danosos não desaparecem com a imposição de penas. A punição apenas adiciona novos danos e dores aos danos e dores causados pelas condutas criminalizadas.
O sistema penal tampouco alivia as dores daqueles ou daquelas que sofrem perdas causadas por comportamentos de indivíduos que desrespeitam e agridem seus semelhantes. Ao contrário. O sistema penal manipula essas dores para criar e facilitar a aparente legitimação do poder do estado de punir. Manipulando o sofrimento, o sistema penal estimula sentimentos de vingança. Desejos de vingança não trazem paz. Desejos de vingança acabam sendo autodestrutivos. O sistema penal manipula sofrimentos, perpetuando-os e criando novos sofrimentos.
Ativistas e movimentos feministas, como outros ativistas e movimentos de direitos humanos, argumentam que as leis penais criminalizadoras têm uma natureza simbólica e uma função comunicadora de que determinadas condutas não são socialmente aceitáveis ou são publicamente condenáveis. Não parecem perceber ou talvez não se importem com o fato de que leis ou quaisquer outras manifestações simbólicas – como explicita o próprio adjetivo ‘simbólico’ – não têm efeitos reais. Leis simbólicas não tocam nas origens, nas estruturas e nos mecanismos produtores de qualquer problema social.
O apelo à natureza simbólica e à função comunicadora das leis penais criminalizadoras é a mais recente tentativa de legitimar o falido, violento, danoso e doloroso poder do estado de punir. Com efeito, o evidente fracasso das tentativas anteriores – as fictícias funções de prevenção individual negativa ou positiva (concernentes aos efeitos da pena sobre os condenados), e de prevenção geral negativa (concernente ao suposto efeito dissuasório da pena) – fracasso esse que teve de ser reconhecido mesmo pelos juristas adeptos do sistema penal, conduziu às teorias fundadas na igualmente fictícia função de prevenção geral positiva da pena, que se traduziria no estímulo ao respeito e obediência à lei, ou, na expressão de Jakobs, o “cultivo da lealdade à lei”. [5]
Dividindo os indivíduos entre ‘cidadãos leais’ e ‘inimigos’, tais teorias fundamentam o chamado ‘direito penal do inimigo’, que, a partir dessa divisão, claramente nega a dignidade inerente a todos os indivíduos, assim claramente contradizendo os direitos humanos fundamentais.
Não fosse isso, privar da liberdade; estigmatizar; causar sofrimento e acabar por arruinar a vida de um indivíduo, para comunicar a mensagem de que determinada conduta é negativa ou ‘má’, não parece ser um comportamento harmônico com o conceito de direitos humanos fundamentais. Ao contrário, tal comportamento se ajusta perfeitamente à ideia do ‘bode expiatório’ a ser sacrificado no altar do sistema penal – um ‘bode expiatório’ que, naturalmente, será preferencialmente selecionado dentre os mais vulneráveis, os pobres, os marginalizados, os não brancos e desprovidos de poder, eventuais autores daquela ‘má’ conduta.
Além disso, se ativistas e movimentos de direitos humanos paradoxalmente concordam em sacrificar seres humanos para comunicar mensagens relacionadas aos direitos humanos – como ativistas e movimentos feministas querem sacrificar autores de agressões contra mulheres no altar do sistema penal para comunicar a mensagem de que a violência de gênero é algo negativo –, por que outros ativistas não poderiam fazer o mesmo? Mais uma vez, é oportuno trazer o exemplo do aborto. Por que outros ativistas e movimentos não poderiam defender a criminalização do aborto, arguindo que esta seria necessária para comunicar a mensagem de que o embrião ou o feto têm direito à vida?
Descriminalizar ou não criminalizar uma conduta está longe de significar sua aprovação. Há muitos outros modos mais efetivos e não danosos de enfrentar situações negativas ou comportamentos indesejados, seja através de leis não penais, seja através de outras intervenções políticas e/ou sociais. Ainda mais eficazes são as antes mencionadas intervenções positivas criadoras de condições materiais para a efetiva realização de direitos, efetivamente ordenadas pelos dispositivos garantidores da proteção de direitos humanos fundamentais, assentados nas declarações universais de direitos e nas constituições democráticas. Por exemplo, o reconhecimento legal e social das uniões de pessoas do mesmo sexo é muito mais eficaz na promoção de direitos LGBT do que a criminalização da homofobia, que, além de ineficaz, causa todos os danos e dores inerentes a qualquer intervenção do sistema penal.
Iniciativas relacionadas aos direitos humanos fundamentais jamais podem se valer da violência, das dores, das desigualdades, da intolerância, das discriminações, da marginalização, que são inerentes a qualquer intervenção do sistema penal.
O papel de ativistas e movimentos feministas, como de quaisquer outros ativistas e movimentos de direitos humanos, há de ser o de repelir a violência e os demais danos causados pelo exercício do poder do estado de punir; conter sua expansão; defender os direitos humanos fundamentais de todos os indivíduos em quaisquer circunstâncias; reafirmar os valores de liberdade, solidariedade, tolerância e compaixão; lutar pela efetiva primazia dos princípios garantidores assentados nas declarações de direitos e constituições democráticas, de modo a proteger cada indivíduo ameaçado pelo exercício do poder punitivo.
Ativistas e movimentos feministas poderiam começar por se sensibilizar com a opressão, a violência, os danos e as dores a que tantas mulheres são submetidas pela atuação do sistema penal. O galopante e ininterrupto crescimento do número de presos no Brasil nos últimos anos também atinge as mulheres. A população carcerária feminina no Brasil mais do que triplicou em pouco mais de doze anos. Do total de presos brasileiros em junho de 2013, as mulheres eram 36135. Em dezembro de 2000, eram 10112 [6]. Mas, não são apenas as mulheres presas, metade delas acusadas ou condenadas em razão da ilegítima criminalização do dito ‘tráfico’ das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas, que sofrem a opressão, a violência, os danos e as dores provocados pelo sistema penal. São também, as mães, companheiras e filhas dos mais de 500 mil homens brasileiros presos, privadas de sua normal convivência familiar, sacrificadas nos difíceis deslocamentos e nas longas esperas pela oportunidade de breves visitas, violentadas nas ainda subsistentes revistas vexatórias no limiar das grades das prisões.
Libertando-se de seus paradoxais desejos punitivos e dirigindo seus olhares para o interior dos muros e grades das prisões, ativistas e movimentos feministas talvez finalmente consigam compreender que o enfrentamento da violência de gênero e a redução desta e de quaisquer outras formas de violência; a superação da desigualdade entre os gêneros e de relações hierarquizadas e discriminatórias, assim como a superação de outras desigualdades e de quaisquer formas de discriminação, jamais poderão se dar através da sempre enganosa, danosa e dolorosa intervenção do sistema penal.
É preciso buscar instrumentos mais eficazes e menos nocivos do que o fácil, simplista e perversamente simbólico apelo à intervenção do sistema penal, que, além de não evitar a ocorrência das condutas que etiqueta como crimes, além de não solucionar conflitos, ainda produz, paralelamente à injustiça decorrente da seletividade inerente à sua operacionalidade, um grande volume de sofrimento e de dor, estigmatizando, privando da liberdade e alimentando diversas formas de violência.
O rompimento com tendências criminalizadoras quer as sustentadas nos discursos ‘de lei e ordem’, quer as apresentadas sob uma ótica supostamente progressista, é indispensável para a efetiva superação de todas as relações de desigualdade, de dominação e de exclusão. A repressão penal, qualquer que seja sua direção, em nada pode contribuir para o reconhecimento e garantia dos direitos humanos fundamentais, tampouco podendo trazer qualquer contribuição para a superação de preconceitos ou discriminações, até porque preconceitos e discriminações estão na base da própria ideia de punição exemplificativa, que informa e sustenta o sistema penal.
***

Maria Lúcia Karam é uma das autoras do novo livro de intervenção Bala perdida: a violência policial no Brasil e os desafios para sua superação, que chega às livrarias em junho de 2015 (impresso R$10; e-book R$5). Com textos curtos e afiados, de perspectivas diversas, a obra incita o debate público sobre o tema e traz propostas para reverter o quadro atual. Integram o volume, textos de nomes como Marcelo Freixo, Luiz Eduardo Soares, Maria Rita Kehl, Coronel Íbis Pereira, Stephen Graham, Tales Ab’Saber, Jean Wyllys, Laura Capriglione, João Alexandre Peschanski, Renato Moraes, Guaracy Mingardi, Eduardo Suplicy, Fernanda Mena, Christian Dunker, Movimento Independente Mães de Maio, Vera Malaguti Batista, e do Núcleo de Estudos da Violência (USP), além de um conto inédito de B. Kucinski, quadrinhos de Rafael Campos Rocha e ensaio fotográfico de Luiz Baltar que retrata remoções forçadas e ocupações militares em diversas comunidades e favelas do Rio de Janeiro desde 2009. Saiba mais aqui.